por Alexandre Matias

A bibliografia do jornalista e escritor norte-americano James Gleick já contava com obras de fôlego, como seu primeiro livro Caos — A Criação de uma Nova Ciência (1987), sobre a teoria do caos, e as biografias que escreveu sobre mestres da física como Richard Feynman (Feynman — A Natureza do Gênio, de 1992) e Isaac Newton (Isaac Newton — Uma Biografia, de 2003). Mas com A Informação — Uma História, Uma Teoria, Uma Enxurrada (Cia das Letras, R$ 59,90), lançado em 2011 e que só agora chega ao Brasil pela Companhia das Letras, o escritor dá um salto ainda maior em abrangência ao explicar que a base do Universo é o bit de informação. “Somos processadores de informação”, crava o escritor, em entrevista por telefone. • Alexandre Matias
Quando você notou que o tema “informação” daria um livro?
Ao pesquisar para fazer meu primeiro livro, Caos, descobri esta ciência chamada Teoria da Informação, criada por Claude Shannon, sem chamá-la assim, em 1948. Lembro ter visto seu livro A Teoria Matemática da Comunicação, que nunca saiu de catálogo, ainda naquela época, mas não me aprofundei. Os anos se passaram e vimos as drásticas mudanças que ocorreram. E, a partir daquela descoberta, sempre soube que sob todas aquelas mudanças havia uma ciência não muito conhecida chamada Teoria da Informação. Havia uma conexão entre uma área da ciência tão obscura e a extremamente dramática e óbvia revolução da informação pela qual estamos passando. Foi quando percebi que poderia organizar isso tudo em um livro. Queria contar apenas a história toda, desde o começo.
Uma tarefa tão ambiciosa quanto megalomaníaca.
Sim, uma tarefa impossível, como se fosse contar a história do mundo. Mas sempre achei que houvesse um tema, que daria coerência ou que funcionasse como um fio da meada para esta história tão complicada.
O subtítulo do livro dá a entender que ele pode ser encarado como três livros.
Sempre soube que este meu livro se chamaria apenas A Informação, só no final do processo é que o subtítulo apareceu. Não havia percebido que estava trabalhando num livro de três partes e essas três partes — a história, a teoria e a enxurrada — vêm todas ao mesmo tempo. E, sim, há três livros em um só volume, embora a divisão não seja clara.
Na parte histórica, um dos grandes méritos do livro é o reconhecimento de figuras que foram esquecidas pela história.
Duas delas, Charles Babbage e Ada Lovelace, surgiram na Inglaterra vitoriana. Algo peculiar sobre sua importância é que, por muito tempo, eles foram esquecidos. Babbage foi bem conhecido em seu próprio tempo, na Inglaterra. Mas logo depois ele sumiu da consciência das pessoas. Se você perguntasse para alguém, nos anos 1930, por exemplo, quem era Charles Babbage, acho que ninguém teria ouvido falar dele, mesmo em seu país. Com Ada Lovelace era pior, você teria de ser um estudioso sério de poesia inglesa para saber que Lord Byron teve uma filha e mesmo assim era pouco provável que alguém soubesse que ela era matemática.
Quando você notou que o tema “informação” daria um livro?
Ao pesquisar para fazer meu primeiro livro, Caos, descobri esta ciência chamada Teoria da Informação, criada por Claude Shannon, sem chamá-la assim, em 1948. Lembro ter visto seu livro A Teoria Matemática da Comunicação, que nunca saiu de catálogo, ainda naquela época, mas não me aprofundei. Os anos se passaram e vimos as drásticas mudanças que ocorreram. E, a partir daquela descoberta, sempre soube que sob todas aquelas mudanças havia uma ciência não muito conhecida chamada Teoria da Informação. Havia uma conexão entre uma área da ciência tão obscura e a extremamente dramática e óbvia revolução da informação pela qual estamos passando. Foi quando percebi que poderia organizar isso tudo em um livro. Queria contar apenas a história toda, desde o começo.
Uma tarefa tão ambiciosa quanto megalomaníaca.
Sim, uma tarefa impossível, como se fosse contar a história do mundo. Mas sempre achei que houvesse um tema, que daria coerência ou que funcionasse como um fio da meada para esta história tão complicada.
O subtítulo do livro dá a entender que ele pode ser encarado como três livros.
Sempre soube que este meu livro se chamaria apenas A Informação, só no final do processo é que o subtítulo apareceu. Não havia percebido que estava trabalhando num livro de três partes e essas três partes — a história, a teoria e a enxurrada — vêm todas ao mesmo tempo. E, sim, há três livros em um só volume, embora a divisão não seja clara.
Na parte histórica, um dos grandes méritos do livro é o reconhecimento de figuras que foram esquecidas pela história.
Duas delas, Charles Babbage e Ada Lovelace, surgiram na Inglaterra vitoriana. Algo peculiar sobre sua importância é que, por muito tempo, eles foram esquecidos. Babbage foi bem conhecido em seu próprio tempo, na Inglaterra. Mas logo depois ele sumiu da consciência das pessoas. Se você perguntasse para alguém, nos anos 1930, por exemplo, quem era Charles Babbage, acho que ninguém teria ouvido falar dele, mesmo em seu país. Com Ada Lovelace era pior, você teria de ser um estudioso sério de poesia inglesa para saber que Lord Byron teve uma filha e mesmo assim era pouco provável que alguém soubesse que ela era matemática.
Os dois foram redescobertos em nossa época por cientistas da computação — e mesmo hoje não dá para saber quem foi o responsável por desenterrar seu trabalho de bibliotecas e perceber que o que estava sendo feito nos anos 1950 na área de computação havia sido imaginado anteriormente, com muito detalhe e criatividade, por Babbage e Lovelace. E isso é muito excitante. Estas idéias nunca deixaram a consciência mundial, mesmo que a grande máquina de calcular idealizada por Babbage tenha sido um fracasso. Tentei entender suas motivações e acho que ele tentava estabelecer uma conexão entre o mundo abstrato dos números e o mundo físico das máquinas. Só isso já era algo emocionante: máquinas podem manipular não apenas tecidos e metais, mas também coisas de natureza mental. É uma ideia muito poderosa que nos fez viver no mundo que vivemos hoje. E é aí que a Ada torna-se uma figura tão importante nessa história, pois enquanto Babbage só pensava em termos de números, ela entendeu melhor do que ele que a informação é algo mais geral — se uma máquina pode manipular números, pode fazê-la manipular palavras e linguagens também.
O livro também cita exemplos de que não é a primeira vez que nos sentimos inundados por informação - você cita que, quando livros deixaram de ser novidade e aos poucos viraram um mercado, muitos diziam que era impossível ler tanto e que isso emburreceria a civilização. Mas ao mesmo tempo, estamos vivendo uma época única em respeito à velocidade e ao volume de informação.
Tentei escrever justamente para que parecesse contraditório. Por um lado, sentimos que nosso tempo não parece com nenhum outro que veio anteriormente. Afinal, no mundo em que vivemos hoje, todos estão conectados eletronicamente por todo o planeta, de forma instantânea, na velocidade da luz, e que podemos ver imagens do que está acontecendo exatamente agora no sudeste da Ásia – sem contar o fato de estarmos tendo esta conversa, mesmo a milhas de distância. Ao mesmo tempo, todos nós podemos ter acesso a todo o conhecimento do mundo ao acionar um aparelho de nossos bolsos. Tudo isso é genuinamente novo e nós só podemos supor o que poderá acontecer com a espécie humana a partir disso.
E o que torna esta afirmação contraditória é que as pessoas sempre sentiram isso, por várias vezes, em toda a história. E toda nova tecnologia da informação trouxe junto um coro de reclamações, medo e ansiedade que é muito parecida com a que vivemos hoje. E à medida em que fui escrevendo o livro, sabia que ele iria terminar na enxurrada de informações a que somos submetidos hoje, afogados em informação.
Mas sabia que iria repetir as previsões loucas do século 17 quando, depois da criação da impressora de tipos móveis, as pessoas temiam por uma terrível enxurrada de livros, que seria tão drástica que faria a humanidade retornar à barbárie, pois não haveria forma de acompanhar tanto conhecimento que, de repente, começava a ser impresso.
A forma que se fala que a internet irá aniquilar o tempo e o espaço é parecida com a forma como o telégrafo foi recebido ao ser criado. E realmente há conexões entre todas estas tecnologias de informação - não é só uma coincidência.
Isso tudo me levou a três considerações. Primeiro, já vimos isso acontecer e é importante termos isso em mente. Segundo, que é realmente diferente desta vez. E terceiro que não dá para imaginar como as pessoas daqui a 50 anos verão a época em que vivemos agora. Acho que isso é impossível de imaginar.
A compreensão da natureza da informação vai para além da área das comunicações e explica, inclusive, nossa biologia.
Com certeza. Pensar o mundo em termos de informação abriu nossos olhos e nos ajudou a entender o que somos como criaturas biológicas. Não há dúvida sobre isso: somos processadores de informação. Nosso sistema nervoso é responsável por mandar mensagens por todo o nosso corpo - e não apenas o sistema nervoso, que é um sistema de fios elétricos, mas também nossos hormônios e outros sinais químicos que são foram percebidos por muitos biólogos como sendo apenas informação. Isso só foi possível entender depois que o telégrafo foi inventado, ele funcionou como uma metáfora para nosso próprio funcionamento.
Mesmo num nível genético, somos feitos de informação. Quando falamos do código genético, isso não é uma metáfora, é literal. O DNA é um código, um alfabeto formado por quatro letras que codifica informações sobre como criar um novo organismo. Até os biólogos entenderem isso seria impossível para eles descobrirem, ou melhor, criarem a linguagem genética.
A grande revolução genética aconteceu nos anos 1950 e 1960, e não ocorreu apenas pela evolução da química ou pela criação de grandes microscópios eletrônicos, que nos permitiu ver a famosa hélice dupla, e sim o entendimento dos processos que estão na base de nossa biologia.
E você acha que em algum momento podemos nos fundir com as máquinas que criamos? O Google Glass, por exemplo, seria o próximo passo rumo à tal singularidade?
Fala-se muito sobre singularidade e acho que boa parte do que é dito é meio bobo, mas de certa forma esta singularidade já aconteceu. Eu não acho que iremos nos fundir como um só organismo com os Borgs (uma entidade coletiva do universo de Jornada nas Estrelas), mas acredito que já podemos nos ver como já somos criaturas mais complexas quando levamos em conta as máquinas e a tecnologia que ampliam nossas habilidades humanas. E é claro que o Google Glass é um dispositivo protético, da mesma forma que o celular que carregamos no bolso também é. Se você parar para pensar, até a escrita é uma tecnologia inventada para ampliar nossas capacidades mentais, como os muitos dispositivos que agregamos ao nosso corpo. Nós já somos híbridos e estamos felizes em nos conectar com o mundo eletrônico.
Dá para ser otimista imaginando este futuro?
Eu tendo a ser otimista pessoalmente, mas não posso defender isso. É mais uma questão de humor. Claro que há muitas coisas que nós precisamos temer e nos preocupar, não acho que seja saudável achar que tudo será ótimo e que a tecnologia irá resolver todos nossos problemas. Não acredito nisso, temos que estar alerta e temos o direito de termos medo e nos preocupar com o fato de estarmos cada vez mais distraídos, sobre perder a habilidade de nos concentrar, devemos nos vigiar se estivermos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e nos esquecermos de prestar atenção naquilo que é próximo da gente, no mundo físico. Mas acho que se fizermos isso, se formos cuidadosos, os desafios que teremos a seguir não serão tão diferentes dos desafios que vimos antes. Portanto, sim, sou um otimista.
E você pode antecipar qual é o assunto de seu próximo livro?
Eu só posso dizer brevemente que comecei a escrever um livro sobre viagens no tempo. Sobre a história da viagem no tempo. Acho que levarei alguns anos para concluí-lo.

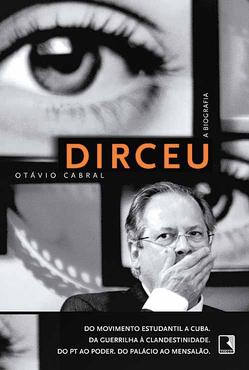
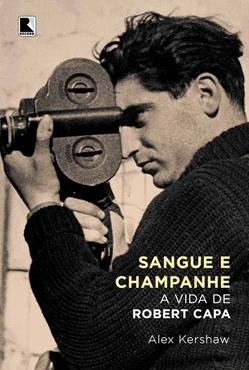
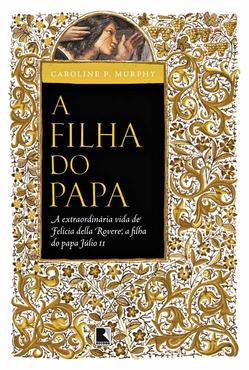

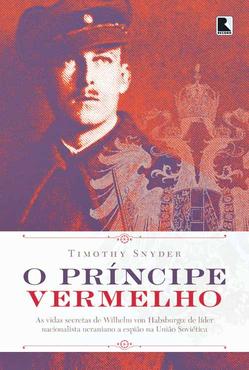
















 Eu diria que a estrutura de Avalovara é como uma jaula dentro da qual se movem animais selvagens. Inquietude, angústia, desespero, tudo o que faz parte da nossa condição. (...) Não há nada obscuro em Avalovara. É como se eu tentasse transmitir com a maior
Eu diria que a estrutura de Avalovara é como uma jaula dentro da qual se movem animais selvagens. Inquietude, angústia, desespero, tudo o que faz parte da nossa condição. (...) Não há nada obscuro em Avalovara. É como se eu tentasse transmitir com a maior Osman Lins, escritor, em entrevista
Osman Lins, escritor, em entrevista